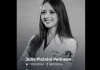A casa de uma família são-carlense nos anos 80 e começo dos 90 tinha uma trilha sonora própria: o clique do telefone de disco, o chiado do rádio, o “clac-clac” da máquina de escrever e, vez ou outra, o suspiro coletivo quando algo dava errado. Porque dava. E muito.
A ligação no orelhão, por exemplo, era sempre uma roleta-russa. Você começava a falar rápido, economizando palavras, até ouvir aquele silêncio cruel: as fichas tinham acabado bem no meio da conversa. Ficava ali, olhando para o aparelho, como se ele tivesse feito de propósito. Hoje a ligação cai por falta de sinal. Naquela época, caía por falta de moedinha.
Em casa, o LP rodava na vitrola com todo o cuidado do mundo. Mas bastava uma agulha mal-humorada para riscar justo a melhor música do disco. Era quase uma lei da física doméstica. A mesma que fazia você errar exatamente a última palavra da página inteira na máquina de escrever. E pior: não existia fita corretiva. O erro não era só erro. Era sentença. Página inteira refeita.
No quarto, o Atari aguardava pacientemente o ritual do assopro. Você tirava a fita, soprava, passava a camiseta, soprava de novo, encaixava com fé… e nada. Hoje, quando um jogo não carrega, a gente culpa a internet. Antes, a gente desconfiava do próprio pulmão.
E tinha o rádio. Ah, o rádio… Você ficava horas esperando aquela música perfeita tocar para gravar na fita K7. Quando finalmente começava, o locutor resolvia falar as horas ou soltar uma vinheta bem no meio do refrão. Era um crime sem punição. E, quando tudo dava certo, o toca-fitas mastigava a fita. Engolia mesmo, com gosto. E o pior: o locutor quase nunca dizia o nome da música no final. Você passava anos apaixonado por uma canção sem saber quem cantava nem como ela se chamava. Um amor anônimo, eterno e frustrado.
No ônibus, alguém sempre fumava. Era normal. Normal como pagar multa na locadora por devolver a fita VHS sem rebobinar. Um pecado capital. Rebobinar era mais importante que devolver no prazo.
Na lancheira, o Ki-suco vazava da garrafinha e molhava as bisnaguinhas com patê. Um lanche agridoce, literalmente. E as músicas em inglês? A gente tirava tudo errado. Cantava com convicção. Depois, descobria no folheto da Fisk que não tinha acertado uma palavra sequer. Mas já era tarde: a letra errada já estava tatuada na memória. E, até hoje, a gente canta do mesmo jeito.
Tinha também o decalque do Ploc. Você raspava com todo cuidado do mundo, quase sem respirar. Quando levantava o papel, lá estava o bichinho… sem uma perninha. Era uma amputação precoce e irreversível.
A televisão, essa, tinha personalidade. Ela resolvia sair do ar exatamente no dia do último capítulo da novela. E lá ia o pai subir no telhado para mexer na antena. Do alto, gritava:
— Melhorou?
E a família, embaixo:
— Melhorou o 5, o 7 e o 9! Piorou o 4, o 11 e o 13!
E nunca, jamais, todos os canais ficavam bons ao mesmo tempo. Nunca.
Na padaria do bairro, você chegava cheio de sede e descobria que tinha esquecido o “casco” do refrigerante. Voltava para casa como quem esqueceu o próprio documento de identidade.
A câmera fotográfica prometia 36 fotos perfeitas. Na revelação, a verdade: todas desfocadas. Algumas queimadas. Outras tortas. O aniversário existiu, mas só na memória.
Na caixa de 36 cores, sempre sobrava o lápis branco. O mais inútil. O mais solitário. O sobrevivente.
E tinha aquele medo universal: engolir uma bala Soft e achar que ia morrer sufocado. Era um drama silencioso, vivido em câmera lenta, no meio da sala.
Nossa vida era assim. Em São Carlos, como em qualquer outra cidade, mas com cheiro de padaria de bairro, som de rádio AM e a TV tentando pegar o canal 5 direito. Tudo parecia mais difícil, mais lento, mais trabalhoso. E, talvez por isso mesmo, mais memorável.
Hoje temos Wi-Fi, streaming, celular, fotos infinitas e músicas que chegam com nome, sobrenome e letra correta. Mas nossos filhos não fazem ideia do que significava uma ficha de orelhão, uma fita K7 mastigada ou um pai gritando do telhado perguntando se “melhorou”.
E o mais curioso é que nem faz tanto tempo assim. Só uns 35 ou 40 anos. Mas, olhando para trás, parece que vivemos em outro planeta.