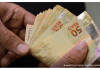Nas décadas de 60 e 70, quando o Brasil dançava entre marchinhas e guitarras elétricas, havia uma figura que não sambava, não tocava tamborim e não corria atrás de confete. Ele apenas ficava parado.
Chamava-se João da Cruz.
Nas noites de carnaval, enquanto os salões fervilhavam e as ruas se enchiam de serpentinas, João atravessava a cidade em silêncio e posicionava-se diante do portão do Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ali permanecia — imóvel como uma estátua que tivesse desistido da eternidade.
Vestia capa preta forrada de vermelho, colete antigo, camisa de babados exagerados. Os dentes, longos e falsamente ameaçadores, reluziam sob a luz amarela dos postes. No entanto, nunca avançou sobre ninguém. Nunca assustou crianças. Nunca perseguiu foliões atrasados. João não fazia mal a ninguém.
Ele apenas curtia ficar fantasiado de vampiro em frente ao cemitério.
Havia nele um certo ar soturno, como se tivesse nascido em preto e branco e o mundo insistisse em ser colorido demais. Os olhos, fundos e atentos, observavam a cidade como quem assiste a um espetáculo que já conhece o final. Às vezes, um grupo de jovens passava rindo:
— Olha o vampiro!
— Vai chupar confete!
João apenas inclinava levemente a cabeça, como um aristocrata do além que aceita a irrelevância do comentário humano.
Diziam que ele surgira numa terça-feira de carnaval e nunca mais deixou de aparecer. Outros juravam que, se alguém prestasse atenção suficiente, perceberia que ele não projetava sombra. Mas isso era exagero de quem bebeu além da conta.
O curioso é que, quanto mais a cidade vibrava, mais imóvel ele ficava. Como se o carnaval fosse o verdadeiro fantasma, e ele, o único ser concreto naquela esquina. Havia noites em que o vento inflava sua capa, transformando-o numa vela fúnebre prestes a zarpar. Nessas horas, os gatos do cemitério aproximavam-se e sentavam-se ao seu redor, formando uma pequena assembleia silenciosa.
Talvez conversassem.
Talvez João fosse apenas o único homem que compreendeu que o carnaval e o cemitério são parentes próximos: ambos celebram o excesso — um da vida, outro da ausência dela.
À meia-noite, quando os fogos estouravam ao longe, ele erguia o rosto para o céu como quem fareja uma lua invisível. Não havia lua. Havia apenas o eco distante de uma marchinha e o cheiro de flores murchas.
Quando a quarta-feira de cinzas amanhecia, João desaparecia. Voltava a ser um homem comum — ninguém sabe onde trabalhava, onde morava, se tinha família. Mas, no ano seguinte, lá estava ele novamente: capa, presas, olhar profundo.
Imóvel.
Soturno.
Inofensivo.
João da Cruz não queria sangue, não queria sustos, não queria glória. Ele apenas curtia ficar fantasiado de vampiro em frente ao cemitério. E talvez, no fundo, fosse a única criatura verdadeiramente coerente numa cidade que, por três dias, fingia ser o que não era.